|
  ASGARDH, hell and heaven
Ridertamashii:animes,mangas,HQs,cultura POP
Samsara, a "roda" e a origem dos bhramanes e dos b...
Os Senhores do Universo
A LENDA DO DEUS BRAMA in Heaven
Deuses Indianos e outras divindades
Reencarnação
Sri Ganesha
Introdução geral ao estudo das doutrinas hindus
Gunas
O MITO DE KALI
Os Chakras, MEDITANDO COM OS CHAKRAS
ASGARDH, hell and heaven
Ridertamashii:animes,mangas,HQs,cultura POP
Samsara, a "roda" e a origem dos bhramanes e dos b...
Os Senhores do Universo
A LENDA DO DEUS BRAMA in Heaven
Deuses Indianos e outras divindades
Reencarnação
Sri Ganesha
Introdução geral ao estudo das doutrinas hindus
Gunas
O MITO DE KALI
Os Chakras, MEDITANDO COM OS CHAKRAS
| A literatura hindu e a síntese do hinduísmo |
| quinta-feira, maio 25, 2006 |

Pedro Kupfer
Hinduísmo é o termo empregado hoje em dia para designar as instituições culturais, religiosas e sociais da grande maioria da população indiana. O hinduísmo faz sua aparição no contexto da civilização vêdica, durante o alvorecer da nação indiana.
Embora não exista uma data precisa a partir da qual possa se dizer que surge a civilização hindu, poderíamos localizá-la entre o declínio da civilização vêdico-harappiana (2200-1900 a.C.) e o século VI a.C., a partir do qual possuímos registros escritos.
Não temos evidências históricas para o milênio anterior à época clássica na Índia, mas temos abundante material nos planos filosófico e religioso. As primeiras escrituras do hinduísmo não possuem uma data precisa, foram compostas e transmitidas oralmente durante um lapso de tempo incerto antes de serem transcritas, embora a tradição oral (parampará) estivesse largamente desenvolvida.
O termo hinduísmo não deve restringir-se apenas ao âmbito religioso, pois não seria uma religião tal como se concebe no Ocidente: não possui um fundador, nem hierarquia, dogmas, liturgia ou profetas. Aliás, nem sequer existe uma palavra para designar essa instituição em sânscrito. A que mais se aproximaria é dharma, que se traduz mais precisamente como lei humana ou social. Também não existe um termo para designar Deus.
Distinguimos quatro grandes momentos na formação do hinduísmo clássico:
1) O período vêdico (1400-500 a.C.), que compreende a transcrição para o nágarí de obras de tradição oral que remontam à idade vêdica (7000-4000 a.C.): Vedas, Brahmánas, Upanishads e Áranyakas, que formam a base de uma importante porção ulterior da filosofia hindu.
2) A literatura épica: o Mahabhárata, o Rámáyána e os Puránas, epopéias e escritos mitológicos surgidos com anterioridade ao ano 3000 a.C. e transcritos para o nágarí entre os séculos III a.C. e IV d.C.
3) A grande síntese hindu, momento em que começam a se configurar as seis escolas filosóficas tradicionais (darshana), o dharma, o sistema de castas, o uso do sânscrito como língua sagrada e a diferença entre Revelação (Shruti) e Tradição (Smriti), de 1400 a.C. até o século V d.C.
4) O Bhakti Yoga ou hinduísmo devocional, que embora tenha raízes antigas, alcançou força considerável entre os séculos VII e XVI d.C.
1) O período vêdico
A) O gênero mais antigo é o dos Vedas, uma coleção de hinos e fórmulas rituais através dos quais o oficiante e harmonizava com as forças naturais. Embora de temática aparentemente limitada, estes livros revelam-se obras primas do ponto de vista literário, dando-nos uma visão global da cultura, dos valores e da forma de vida do povo vêdico.
Existem quatro Vedas: o Rig, o Sáma, o Yajur e o Atharva. O primitivo panteão hindu era muito complexo e até contraditório, pois os diversos autores inseriram ao longo dos séculos inúmeras concepções diferentes. Mesmo assim, podemos identificar claramente as diferentes forças da Natureza encarnadas nestes deuses: Súrya, Vishnu e Savitr são divindades solares, Agni personifica o fogo; Váyu relaciona-se com o vento, Rudra-Shiva é o deus terrível, Mitra e Varuna são os conservadores da criação e Indra o deus guerreiro.
B) Os Brahmánas são tratados escritos pelos sacerdotes que versam sobre a prática litúrgica e expõem a cosmogonia primitiva do Purushasukta: o nascimento do homem primordial através de ascese extrema (tapas) e sacrifício, que garante a continuidade da criação através da repetição do gesto criador.
C) Já nos Áranyakas (Livros da Floresta) e nas Upanishads (ensinamentos ouvidos aos pés de um Mestre), os hindus passam a aplicar as técnicas contemplativas, havendo uma transferência de interesses do mero ritual para a meditação.
Começam assim a questionar o universo, a natureza da realidade suprema, o porque da existência humana e as relações entre essa realidade e o homem. Inferiram que a natureza suprema é igual à natureza humana e que é possível alcançar a fusão dessas realidades através das técnicas contemplativas. Há treze Upanishads reveladas (Shruti), das quais três tratam do Yoga e descrevem técnicas de meditação: Svetáshwatara, Maitrí e Kena. Todas as outras são posteriores, e pertencem à Tradição (Smriti).
2) A literatura épica
Ganha popularidade ao mesmo tempo em que se delineiam as principais tendências do hinduísmo: o shivaísmo, o vaishnavismo e o culto de Shaktí nas suas diversas formas. As epopéias mais importantes são o Mahabhárata e o Rámáyána. A primeira obra, O Grande (Combate) dos Bháratas, é um poema épico escrito em 100.000 slokas, estrofes de dois ou quatro versos, oito vezes maior do que a Ilíada e a Odisséia juntas. Descreve a cruenta batalha renhida entre os Pándavas e seus primos Kauravas pelo reino de Bhárata.
Essa guerra, embora real, é uma verdadeira alegoria sobre o ser humano e a eterna conflagração de poderes entre o bem e o mal. Posteriormente será acrescentada à sua estrutura a Bhagavad Gítá, poema no qual o avatára Krishna, ensina ao príncipe guerreiro Arjuna os princípios de três tipos de Yoga: Karma, Jñána e Bhakti Yoga.
O Rámáyána, ou Feitos de Ráma, que possui numerosas versões, conta as aventuras de Ráma para resgatar a sua amada Sítá do seu raptor, o demônio Rávana. É necessário precisar que as datas aqui mencionadas referem-se ao momento em que estas obras, de transmissão oral, foram transcritas para pergaminhos ou folhas de palmeira (pushtaka).
Existem atualmente estudiosos que situam a origem do Veda e dos épicos na última era glacial, ao redor de 8000 anos atrás. Paralelamente às epopéias surgem os dezoito Grandes e os dezoito Pequenos Puránas, crônicas, mitos e lendas arquetípicos utilizados desde tempos imemoriais como fonte de educação popular. Os Puránas e os épicos possuem para a nação hindu o mesmo valor exemplar e a mesma importância que o Ocidente outorga à História.
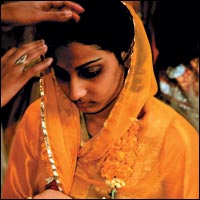
3) A síntese hindu
É o momento em que se definem as grandes instituições e tendências filosóficas, no fim do período upanishâdico. Neste período perfilam-se as seis grandes escolas de filosofia (darshana) e outras instituições tradicionais: a concepção do sistema de castas (varna), os códigos da lei (dharma) e a literatura sânscrita clássica, que inclui textos sobre fonética, gramática, astronomia, matemática e outras ciências.
As epopéias (Mahabhárata, Rámáyána), Puránas (crônicas e mitos populares), Ágamas (manuais de culto), Tantras (tratados filosóficos) e darshanas (pontos de vista filosóficos), constituem a Tradição (Smriti), oposta e posterior à Revelação (Shruti), que inclui os Vedas, Brahmánas, Áranyakas e as treze primeiras Upanishads.
Os seis darshanas, pontos de vista ou escolas filosóficas, formam três pares: Sámkhya/Yoga, Nyáya/Vaisheshika e Mímánsá/Vedánta. O Sámkhya e o Yoga formam sem dúvida o par mais antigo de darshanas, tendo suas raízes profundamente fincadas na Índia aborígene.
O Sámkhya (lit., número, discriminação) é uma filosofia especulativa de fundo dualista que poderia ser definida como emanacionista: os seus vinte e quatro princípios (tattwa) formam uma estrutura vertical, na qual cada elemento ou grupo de elementos emana dos anteriores, e todos do par original Purusha/Prakriti. Através dos diferentes tattwas circulam três estados (guna) que definem por interação todo o existente: sattwa (leveza, equilíbrio), rajas (ação, emoção), e tamas (inércia, escuridão).
O Yoga é um conjunto sistematizado de técnicas que visam a alcançar o estado não condicionado da hiperconsciência (samádhi). À diferença dos outros darshanas, que são meramente especulativos, o Yoga utiliza práticas contemplativas para atingir o estado do não condicionamento.
O Yoga está inextrincavelmente ligado ao Sámkhya, e faz suas as premissas deste último. Antes de ser reconhecido como darshana, o Yoga já tinha alguns milênios de existência, estando ligado ao Niríshvara Sámkhya, ou Sámkhya ateísta. A partir da sua inclusão na grande síntese hindu, já com o status de darshana, passa a receber também o nome de Sêshwara Sámkhya, ou Sámkhya teísta, pois reconhece a existência de um Princípio Criador que estava fora das asserções do Sámkhya ateísta, mais antigo.
O Nyáya e o Vaisheshika são ramos separados da mesma escola, complementam-se entre si e ficaram virtualmente amalgamados em um único sistema filosófico. Nyáya (penetrar, compreender) é uma palavra que significa investigação analítica, e foi tomada em um sentido menos amplo como lógica. Esta é a corrente que mais se aprofundou nos processos e leis do pensamento, e baseia-se em compreensão exata e argumentação correta, estabelece uma clara diferença entre matéria e espírito.
O Vaisheshika expõe o ponto de vista atomista, explicando a origem, a estrutura e a evolução do Universo. O mundo material é composto de átomos (anu), unidades especiais, eternas e imutáveis que se caracterizam apenas pela sua particularidade (vishêsha), donde o nome.
O Mímánsá (exame, forma, regra) ou Púrva Mímánsá não é um sistema filosófico propriamente dito, mas um dogmático sistema de interpretação das escrituras vêdicas que versa sobre como devem ser feitos os rituais e as cerimônias religiosas.
O Vedánta (o fim do Veda) é um darshana monista (adwaita ), que tem como objetivo acabar com a ignorância metafísica. Está baseado na interpretação das Upanishads e propõe a teoria da máyá (ilusão), segundo a qual o mundo não é real da forma como o percebemos. Também recebe o nome de Uttara Mímánsá.
4) O hinduísmo devocional
O culto devocional (bhakta) de Shiva, Shaktí e Vishnu possui os seus próprios textos: os Ágamas e os Tantras. O culto de Shiva e Vishnu já aparece nos épicos, sendo de grande importância no sul da península indiana. Existem diversas correntes do shivaísmo e do shaktismo que integram práticas do Yoga e do Tantra. Nelas reconhecemos formas de culto à Natureza que remetem às populações proto-australóides da Índia pré-histórica.
__________________________________________________ |
posted by iSygrun Woelundr @ 6:04 PM   |
|
|
|
| Yoga e religião |
|

Cláudio Roberto Freire de Azevedo
Religião é manter a mente aberta e desejosa de aprender.
"O contato da consciência humana e individual com o Divino é a verdadeira essência do Yoga".
Sri Aurobindo (1872-1950) A palavra Yoga, que deriva da raiz yuj, significa unir ou religar, no sentido de ligar novamente o homem a algo essencial de seu ser, do qual era unido e que agora vive distante: é o matrimônio da matéria com o espírito. Não é à toa que a palavra religião tem o mesmo significado, pois deriva do latim religare, que significa religar. Da mesma forma, o sufismo considera o espírito humano como uma emanação do divino, ao qual se esforça por se reintegrar. Nesse ponto, pode-se afirmar que Yoga é uma forma de religião, mas no sentido de que há uma transmissão de conhecimentos, a criação de um código de uma conduta ética e uma prática espiritual. Entende-se por prática espiritual o ponto comum entre Yoga e qualquer religião: a idéia de que o homem pode desejar algo que lhe é infinitamente superior e que está além de si próprio, mas, paradoxalmente, profundamente imerso dentro de si mesmo. O Yoga, como todas as tradições sapienciais, é uma
forma de ver o mundo (na literatura hindu existem seis formas de se ver o mundo – os seis darshanas (pontos de vista): Samkhya, Yoga, Vedanta, Mimansa, Nyaya e Vaisheshika), é o conhecimento da Religião-sabedoria e a sua prática, uma forma de transformação pessoal que exige prática constante a fim de que se consiga mergulhar em todos os níveis de realidade existentes, vencendo-as e vendo-as como ilusões, em direção ao Vazio Infinito (Brahman), a única Realidade.
O Dharma (ensino provisório e ensino definitivo)
Como todas as tradições sapienciais, o Yoga estuda a mente e faz com que o praticante investigue as causas de sofrimento: a teoria dos kleshas de Patañjali. Resumidamente, os kleshas (da raiz klish: o que causa dor) podem ser descritos como a falta de percepção das múltiplas realidades do mundo fenomenal (avidya) que leva à identificação pessoal com um falso "eu", o egocentrismo (asmita), com os desejos (raga – paixão – e dvesha – aversão) e com o apego à existência (abhinivesha). Para o budismo, a distinção entre o que é ilusório e o que é real é a solução para a extinção do sofrimento. O budismo tibetano ensina a descobrir o que não muda dentro do que muda. Tudo o que for impermanente não pode ser considerado real e não pode ser fonte de apegos. O mesmo dizia também Jesus, o Cristo (Mt 6:19s), quando nos orientou a buscar os tesouros do céu, pois os da terra estavam fadados à ferrugem e às traças. Nesse sentido, num ponto de vista filosófico mais profundo, até a mente
humana, com seus turbilhões de pensamentos e emoções em constante surgimento e desaparecimento, é uma ilusão impermanente, que não deve ser fonte de apegos e deve ser cessada ou transcendida.
Mas como afirmar que a nossa dor de cabeça é ilusória ou que uma topada não está doendo? E a dor da perda de uma paixão também é uma ilusão? Todas as tradições religiosas utilizam, para isso, ensinamentos conhecidos como provisórios, pois dizem respeito a coisas que não são reais. Esses ensinamentos nos ajudam a nos comportar no cotidiano, criar qualidades que na verdade também são provisórias. Precisamos ouvir falar do sofrimento, pois estamos imersos nessa pseudo-realidade. Os ensinamentos que dizem respeito à realidade última são os ensinamentos definitivos. Eles nos dizem que não somos seres sofredores, somos seres divinos que criam seu próprio sofrimento ilusório.
Todo aparente paradoxo é apenas a diferença entre a visão limitada e a ilimitada (ensinamentos provisórios e definitivos). Somente aquele capaz de ver de cima, aquele que conhece os ensinamentos superiores, consegue entender os paradoxos, olhando de baixo ou olhando de cima. Mas aquele que não é capaz de ver de cima, imerso que está na materialidade, deve começar com os ensinamentos provisórios (visão convencional).
Nos ensinamentos provisórios tomamos consciência de nosso estado de sofrimento como real e procuramos a causa, os mecanismos de seu surgimento que estão em nossos hábitos e em nossa visão da vida. Mas, para a grande maioria das mentes, até essa reflexão pode ser difícil. Então o ensinamento mais básico é feito de regras a serem seguidas, nem que seja por temor do castigo de algum deus fictício (deus castiga; aqui se faz, aqui se paga; etc) de forma que percamos velhos hábitos (ou tendências) e adquiramos novos hábitos. A todas as nossas tendências (positivas e negativas), as quais já nascemos com elas, as filosofias hindu e budista chamam de karma.
Todas as tradições sapienciais têm essas regras, ditadas divinamente ou pelo fundador da doutrina. São orientações morais e éticas para o bom convívio em sociedade e consigo mesmo. São exemplos de ensinamentos provisórios o decálogo do judaísmo, os dez mandamentos do catolicismo, as cinco observâncias do islamismo, as dez ações não virtuosas e a prática das dez perfeições (paramitas) do budismo Vajrayana, e a disciplina (Yama) e a autodisciplina (Niyama) do Yoga Sutra. Até a regra de ouro da ética está presente em todas: "... amarás o teu próximo como a ti mesmo".
Trecho extraído do livro Yoga e as Tradições Sapienciais.
© 2005 Órion. Todos os direitos reservados.
Cláudio é médico, cirurgião-geral, teósofo, escritor, professor na disciplina Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da UFC - Universidade Federal do Ceará e jñana yogi residente em Fortaleza, CE. |
posted by iSygrun Woelundr @ 5:51 PM   |
|
|
|
|
|




